
Ser mortal é lutar para lidar com nossas restrições biológicas, com os limites estabelecidos por genes, células, carne e osso. A ciência médica nos confere um poder extraordinário para desafiar esses limites, e o valor potencial desse poder foi uma das principais razões pelas quais me tornei médico. No entanto, vi repetidas vezes o dano que nós, na medicina, causamos quando deixamos de reconhecer que esse poder é finito e sempre será.
Enganamo-nos a respeito de nossa função como médicos. Acreditamos que nosso trabalho é garantir a saúde e a sobrevivência. Mas, na verdade, é muito mais que isso. É possibilitar o bem-estar. E o bem-estar tem a ver com as razões pelas quais alguém deseja estar vivo. Essas razões são importantes não apenas no fim da vida ou quando a pessoa se torna debilitada, mas durante todo o percurso. Sempre que alguém é vítima de uma doença ou lesão séria e seu corpo ou mente entra em colapso, as questões vitais são as mesmas. Como você entende a situação e seus possíveis resultados? Quais são seus medos e suas esperanças? Quais são as concessões que você está disposto a fazer e as que não está? E qual é o plano de ação que melhor corresponde a esse entendimento?
Enganamo-nos a respeito de nossa função como médicos. Acreditamos que nosso trabalho é garantir a saúde e a sobrevivência. Mas, na verdade, é muito mais que isso. É possibilitar o bem-estar. E o bem-estar tem a ver com as razões pelas quais alguém deseja estar vivo. Essas razões são importantes não apenas no fim da vida ou quando a pessoa se torna debilitada, mas durante todo o percurso. Sempre que alguém é vítima de uma doença ou lesão séria e seu corpo ou mente entra em colapso, as questões vitais são as mesmas. Como você entende a situação e seus possíveis resultados? Quais são seus medos e suas esperanças? Quais são as concessões que você está disposto a fazer e as que não está? E qual é o plano de ação que melhor corresponde a esse entendimento?
>> Cristiane Segatto: O médico super sincero
A área de cuidados paliativos surgiu nas últimas décadas para trazer esse tipo de pensamento para os médicos e seus pacientes que estão morrendo. E a especialidade está avançando, levando a mesma abordagem a outros pacientes com doenças graves, quer estejam morrendo ou não. Isso é encorajador. Mas não é motivo de comemoração. Só será possível comemorar quando todos os clínicos tiverem esse tipo de posicionamento com cada pessoa por eles tratada; quando não houver mais necessidade de uma especialidade separada.
Se ser humano é ser limitado, então o papel dos profissionais e das instituições encarregados de oferecer cuidados – de cirurgiões acasas de repouso – deveria ser de ajudar as pessoas em sua batalha contra esses limites. Às vezes podemos oferecer cura, às vezes apenas alívio, outras vezes nem isso. Porém, independentemente do que possamos oferecer, nossas intervenções, assim como os riscos e sacrifícios que envolvem, só são justificadas se atendem às metas maiores da vida da pessoa. Quando nos esquecemos disso, podemos infligir um sofrimento bárbaro. Quando nos lembramos, podemos fazer um bem enorme.
A área de cuidados paliativos surgiu nas últimas décadas para trazer esse tipo de pensamento para os médicos e seus pacientes que estão morrendo. E a especialidade está avançando, levando a mesma abordagem a outros pacientes com doenças graves, quer estejam morrendo ou não. Isso é encorajador. Mas não é motivo de comemoração. Só será possível comemorar quando todos os clínicos tiverem esse tipo de posicionamento com cada pessoa por eles tratada; quando não houver mais necessidade de uma especialidade separada.
Se ser humano é ser limitado, então o papel dos profissionais e das instituições encarregados de oferecer cuidados – de cirurgiões acasas de repouso – deveria ser de ajudar as pessoas em sua batalha contra esses limites. Às vezes podemos oferecer cura, às vezes apenas alívio, outras vezes nem isso. Porém, independentemente do que possamos oferecer, nossas intervenções, assim como os riscos e sacrifícios que envolvem, só são justificadas se atendem às metas maiores da vida da pessoa. Quando nos esquecemos disso, podemos infligir um sofrimento bárbaro. Quando nos lembramos, podemos fazer um bem enorme.

Nunca esperei que minhas experiências mais significativas como médico – e, na verdade, como ser humano – fossem resultar de ajudar os outros a lidar não só com o que a medicina pode fazer, mas também com o que não pode. Mas esse demonstrou ser o caso, fosse com uma paciente, como Jewel Douglass, com uma amiga, como Peg Bachelder, ou com alguém que eu tanto amava, como meu pai.
Meu pai chegou ao fim sem nunca ter tido de sacrificar suas prioridades ou de deixar de ser quem era, e por isso sou grato. Tinha claros em mente seus desejos, mesmo para depois de sua morte. Deixou instruções para minha mãe, minha irmã e para mim. Queria que cremássemos seu corpo e jogássemos as cinzas em três lugares que lhe eram importantes: em Athens, no vilarejo em que crescera e no Rio Ganges, sagrado para todos os hindus. De acordo com a mitologia hinduísta, quando os restos mortais de uma pessoa tocam o grande rio, ela tem assegurada a salvação eterna. Há milênios famílias levam as cinzas de seus entes queridos até o Ganges e as espalham sobre suas águas.
Meu pai chegou ao fim sem nunca ter tido de sacrificar suas prioridades ou de deixar de ser quem era, e por isso sou grato. Tinha claros em mente seus desejos, mesmo para depois de sua morte. Deixou instruções para minha mãe, minha irmã e para mim. Queria que cremássemos seu corpo e jogássemos as cinzas em três lugares que lhe eram importantes: em Athens, no vilarejo em que crescera e no Rio Ganges, sagrado para todos os hindus. De acordo com a mitologia hinduísta, quando os restos mortais de uma pessoa tocam o grande rio, ela tem assegurada a salvação eterna. Há milênios famílias levam as cinzas de seus entes queridos até o Ganges e as espalham sobre suas águas.
>> Quando o hospital vai à floresta
Alguns meses após a morte de meu pai, portanto, seguimos essa mesma tradição. Viajamos até Varanasi, às margens do Ganges, uma antiga cidade de templos datada do século XII a.C. Acordamos antes do nascer do sol e caminhamos até um dos ghats, as paredes de degraus íngremes que ladeiam as margens do enorme rio. Tínhamos reservado com antecedência os serviços de um pandit, um guru, e ele nos guiou até um barquinho de madeira com um remador que nos conduziu pelo rio antes da aurora.
O ar fresco era revigorante. Um véu de névoa branca pairava sobre os pináculos da cidade e sobre a água. O guru de um templo cantava mantras e sua voz era difundida, junto com ruídos de estática, por meio de alto-falantes. O som atravessava o rio, chegando aos primeiros banhistas do dia, com suas barras de sabão, às fileiras de lavadeiras que batiam roupas em tábuas de pedra e ao martim-pescador sentado em um ancoradouro. Passamos por plataformas com enormes pilhas de madeira, que aguardavam as dezenas de corpos a serem cremados naquele dia. Quando já tínhamos percorrido uma distância considerável e o sol começou a aparecer em meio à névoa, o pandit começou a entoar mantras e a cantar.
Como o homem mais velho da família, fui chamado para auxiliar nos rituais necessários para que meu pai alcançasse moksha – a libertação do interminável ciclo de morte e renascimento para alcançar o nirvana. O pandit colocou um anel de barbante no quarto dedo de minha mão direita. Mandou que eu segurasse a urna de latão de um palmo contendo os restos de meu pai e que espalhasse as cinzas sobre ervas medicinais, flores e pedaços de comida: uma noz-de-areca, arroz, groselhas, cristais de açúcar e cúrcuma. Depois mandou que os outros membros da família fizessem o mesmo. Queimamos incenso e sopramos a fumaça sobre as cinzas. O pandit estendeu a mão por sobre a proa com um copinho e me fez beber três minúsculas colheradas da água do Ganges. Então me disse que lançasse as cinzas no rio por cima de meu ombro direito, seguidas da própria urna e de sua tampa. “Não olhe”, advertiu-me em inglês, e não olhei.
Embora meus pais tivessem tentado, é difícil criar um bom hindu em uma cidadezinha de Ohio. Eu não acreditava muito na ideia de deuses controlando o destino das pessoas e não achava que nada do que estávamos fazendo fosse oferecer a meu pai um lugar especial no além. O Ganges podia ser sagrado para os seguidores de uma das maiores religiões do mundo, mas para mim, o médico, era mais conhecido como um dos rios mais poluídos do planeta, graças, em parte, a todos os corpos incompletamente cremados que nele eram jogados. Sabendo que teria de tomar aqueles três golinhos de água do rio, eu havia pesquisado a contagem bacteriana na internet e tomado os antibióticos adequados de antemão. (Mesmo assim, tive uma infecção por giárdia, já que havia me esquecido da possibilidade de ser contaminado por parasitas.)
Ainda assim, fiquei intensamente tocado e grato por ter tido a chance de fazer meu papel. Primeiro, porque era a vontade de meu pai, assim como de minha mãe e irmã. Além do mais, embora eu não sentisse que meu pai estivesse naquela urna ou naquelas cinzas, senti que o havíamos conectado a algo muito maior do que nós, naquele lugar onde as pessoas vinham realizando esse tipo de ritual havia tanto tempo.
Alguns meses após a morte de meu pai, portanto, seguimos essa mesma tradição. Viajamos até Varanasi, às margens do Ganges, uma antiga cidade de templos datada do século XII a.C. Acordamos antes do nascer do sol e caminhamos até um dos ghats, as paredes de degraus íngremes que ladeiam as margens do enorme rio. Tínhamos reservado com antecedência os serviços de um pandit, um guru, e ele nos guiou até um barquinho de madeira com um remador que nos conduziu pelo rio antes da aurora.
O ar fresco era revigorante. Um véu de névoa branca pairava sobre os pináculos da cidade e sobre a água. O guru de um templo cantava mantras e sua voz era difundida, junto com ruídos de estática, por meio de alto-falantes. O som atravessava o rio, chegando aos primeiros banhistas do dia, com suas barras de sabão, às fileiras de lavadeiras que batiam roupas em tábuas de pedra e ao martim-pescador sentado em um ancoradouro. Passamos por plataformas com enormes pilhas de madeira, que aguardavam as dezenas de corpos a serem cremados naquele dia. Quando já tínhamos percorrido uma distância considerável e o sol começou a aparecer em meio à névoa, o pandit começou a entoar mantras e a cantar.
Como o homem mais velho da família, fui chamado para auxiliar nos rituais necessários para que meu pai alcançasse moksha – a libertação do interminável ciclo de morte e renascimento para alcançar o nirvana. O pandit colocou um anel de barbante no quarto dedo de minha mão direita. Mandou que eu segurasse a urna de latão de um palmo contendo os restos de meu pai e que espalhasse as cinzas sobre ervas medicinais, flores e pedaços de comida: uma noz-de-areca, arroz, groselhas, cristais de açúcar e cúrcuma. Depois mandou que os outros membros da família fizessem o mesmo. Queimamos incenso e sopramos a fumaça sobre as cinzas. O pandit estendeu a mão por sobre a proa com um copinho e me fez beber três minúsculas colheradas da água do Ganges. Então me disse que lançasse as cinzas no rio por cima de meu ombro direito, seguidas da própria urna e de sua tampa. “Não olhe”, advertiu-me em inglês, e não olhei.
Embora meus pais tivessem tentado, é difícil criar um bom hindu em uma cidadezinha de Ohio. Eu não acreditava muito na ideia de deuses controlando o destino das pessoas e não achava que nada do que estávamos fazendo fosse oferecer a meu pai um lugar especial no além. O Ganges podia ser sagrado para os seguidores de uma das maiores religiões do mundo, mas para mim, o médico, era mais conhecido como um dos rios mais poluídos do planeta, graças, em parte, a todos os corpos incompletamente cremados que nele eram jogados. Sabendo que teria de tomar aqueles três golinhos de água do rio, eu havia pesquisado a contagem bacteriana na internet e tomado os antibióticos adequados de antemão. (Mesmo assim, tive uma infecção por giárdia, já que havia me esquecido da possibilidade de ser contaminado por parasitas.)
Ainda assim, fiquei intensamente tocado e grato por ter tido a chance de fazer meu papel. Primeiro, porque era a vontade de meu pai, assim como de minha mãe e irmã. Além do mais, embora eu não sentisse que meu pai estivesse naquela urna ou naquelas cinzas, senti que o havíamos conectado a algo muito maior do que nós, naquele lugar onde as pessoas vinham realizando esse tipo de ritual havia tanto tempo.
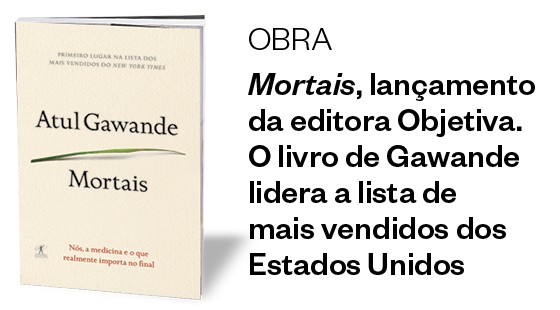
Quando eu era criança, as lições que meu pai me ensinou foram sobre perseverança: nunca aceitar as limitações que atravancavam meu caminho. Como adulto, observando-o em seus últimos anos, também vi como aprender a aceitar os limites que, por mais que desejássemos, não poderíamos fazer desaparecer. Com frequência, não é fácil determinar quando devemos parar de desafiar os limites e passar a tirar o melhor proveito possível deles. Mas está claro que às vezes o custo de desafiá-los excede os benefícios. Ajudar meu pai a lidar com a dificuldade de definir esse momento foi, ao mesmo tempo, uma das experiências mais dolorosas e mais privilegiadas de minha vida.
Parte da maneira como meu pai lidou com os limites que enfrentou foi os encarando sem ilusão. Embora suas circunstâncias às vezes o deixassem abatido, nunca fingia que eram melhores do que de fato eram. Sempre entendeu que a vida é curta demais e que o lugar de cada um de nós no mundo é pequeno. Porém, também se via como um elo na cadeia da história.
Flutuando naquele rio caudaloso, não pude deixar de sentir as mãos das muitas gerações ligadas através do tempo. Ao nos levar até ali, meu pai nos ajudara a enxergar que ele era parte de uma história que remontava a milhares de anos – e nós também.
Tivemos sorte de ouvi-lo verbalizar seus desejos e se despedir. Ao ter essa chance, mostrou-nos que estava em paz. E isso, por sua vez, nos permitiu ficar em paz também. Depois de ter espalhado as cinzas de meu pai, flutuamos em silêncio por um tempo, deixando que a corrente nos levasse. O sol começou a dissipar a névoa e a nos aquecer os ossos. Fizemos um sinal ao barqueiro para que apanhasse os remos e nos dirigimos de volta à margem.
Parte da maneira como meu pai lidou com os limites que enfrentou foi os encarando sem ilusão. Embora suas circunstâncias às vezes o deixassem abatido, nunca fingia que eram melhores do que de fato eram. Sempre entendeu que a vida é curta demais e que o lugar de cada um de nós no mundo é pequeno. Porém, também se via como um elo na cadeia da história.
Flutuando naquele rio caudaloso, não pude deixar de sentir as mãos das muitas gerações ligadas através do tempo. Ao nos levar até ali, meu pai nos ajudara a enxergar que ele era parte de uma história que remontava a milhares de anos – e nós também.
Tivemos sorte de ouvi-lo verbalizar seus desejos e se despedir. Ao ter essa chance, mostrou-nos que estava em paz. E isso, por sua vez, nos permitiu ficar em paz também. Depois de ter espalhado as cinzas de meu pai, flutuamos em silêncio por um tempo, deixando que a corrente nos levasse. O sol começou a dissipar a névoa e a nos aquecer os ossos. Fizemos um sinal ao barqueiro para que apanhasse os remos e nos dirigimos de volta à margem.
* Trecho do livro Mortais, lançamento da editora Objetiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário